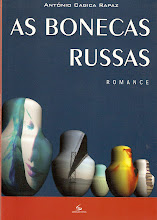as crónicas da Eventos... Nova corrida, nova viagem*
Nova corrida, nova viagem*
António Cagica Rapaz
Não sei se, como diz o poeta, viajar é preciso, nem sei dizer, com rigor, o que é uma viagem. A nossa vida é certamente uma viagem, mais longa ou mais curta, com mais ou menos peripécias, mas sem sombra de dúvida uma viagem que começa e, em geral, termina sem que nos peçam a opinião. Aliás, não sabemos se termina pois o que aparenta ser o fim pode ser apenas o início de uma nova viagem, bem mais demorada, eternidade fora…
E esta reflexão sobre o tema da eventualidade de uma vida depois da morte é só por si uma viagem fascinante, mesmo que nunca cheguemos a conclusões irrefutáveis. Naturalmente, cada um é livre de acreditar no que entende e de exigir provas concretas e indiscutíveis. Pessoalmente, julgo que nunca se chegará a apresentar factos totalmente convincentes porque tal significaria o fim do mistério e do livre arbítrio. Embora eu esteja muito longe de ser entendido em tão profundo tema, ainda assim atrevo-me a dizer que, para mim, faz sentido que as coisas permaneçam nesta esfera de indefinição, entre uma nuvem de interrogação e uma névoa de dúvida, apesar de haver uma montanha de indícios e sinais dignos de interesse e reflexão. Algumas pessoas, como eu, talvez ingénuas, espíritos fracos, acham que eles são suficientes e flagrantes, mas outras continuarão firmes na exigência de dados irrefutáveis e não arredarão pé do seu cepticismo. Sempre foi e continuará a ser assim…
Não sou, obviamente, autoridade no assunto, e apenas por curiosidade confesso que acredito na vida além da morte. Sem ela, esta existência terrena não faria qualquer sentido, seria uma monstruosidade, um absurdo, uma aberração, tantas são as incongruências, as injustiças e as desigualdades. Mesmo que não dispusesse de um razoável arsenal de pistas (como possuo) continuaria a acreditar, simplesmente porque essa perspectiva me agrada, me parece lógica, natural e infinitamente mais agradável do que aceitar que tudo acaba no cemitério. Confesso que tenho dificuldade em perceber como se pode viver resignado ao final definitivo e irremediável do balde de cal…
Mas o importante não é anunciar que se tem uma convicção ou uma ideologia. O que conta é o que nós fazemos (ou não) com as nossas ideias. Ora a expectativa perante o que nos espera após a morte poderia influenciar a nossa conduta ao longo da viagem que é a vida terrena. Pelo menos, poderia ensinar-nos a olhar o mundo que nos rodeia, as pessoas e as coisas, de outra maneira, numa perspectiva diferente. Deveria ensinar-nos a apreciar o que tem verdadeira importância, o que vale a pena nesta vida. Mas tal não acontece, é a natureza humana. Para muitos o que conta é possuir, adquirir bens materiais, passando ao lado de coisas bem mais valiosas como o amor, a amizade, a fraternidade, a solidariedade, a alegria de uma convivência saudável, a partilha de sentimentos e afectos.
Para alguns, importantes são as pretensas honrarias, as medalhas, os diplomas, as condecorações, os títulos, os sinais externos de evidência, de hipotética relevância, de aparente importância. E fazem desta viagem uma caça ao suposto tesouro constituído por tais panóplias, com sofreguidão, egoísmo e cegueira.
No carrossel da nossa infância, havia sempre nova corrida, nova viagem. E o homem do carrossel “Ribatejano” recordava igualmente que não subíssemos nem descêssemos com o carrossel em movimento. “Deixem parar, fazem favor”, rematava ele, sem ter a noção de que, na sua lengalenga de anos e anos de feira, resumia uma implacável filosofia de vida. Hoje um, amanhã outro, os nossos amigos vão-nos deixando, vão descendo com o carrossel em movimento. Nós vemos, temos consciência, sabemos, até os acompanhamos na última viagem, ao cemitério. Mas fingimos que não é connosco, voltamos para o carrossel, agarramo-nos ao pescoço da girafa, olhamos em frente, e a roda volta a girar sem que aproveitemos para olhar em volta, reflectir sobre o sentido daquela correria desenfreada.
De tanto olharmos em frente e para cima, por querermos ser mais altos, mais fortes, mais ricos, não vemos a ternura no olhar do nosso amigo que teria ficado feliz se tivéssemos parado uns minutos para com ele trocarmos duas frases.
A nossa vida é feita de múltiplas viagens e escrever também é uma viagem, uma dupla viagem, dentro da nossa cabeça e ao encontro do leitor. A palavra é mão estendida a quem nos lê, gesto de esperança na partilha de um tema, de um tempo, de uma emoção em que o texto é apenas pretexto. No poço fundo dos nossos sentimentos, das nossas recordações, dos nossos medos e dos nossos anseios, dos nossos sonhos e da nossa fantasia, buscamos assunto para redacções como esta em que, afinal, só procuramos companheiros para a viagem que é a vida. Na nossa ingenuidade e na nossa ânsia de compreender o sentido das coisas, até nos atrevemos a filosofar sobre temas tão inacessíveis e transcendentes como são a vida e a morte.
A vida está cheia de coisas simples e belas, e o amor é a mais maravilhosa das viagens. No entanto, para a maioria, o conceito de viagem sugere mais deslocações à Tailândia ou à China, voltar com filmes, fotografias, provas de que estiveram lá.
São passageiros frequentes, vedetas de projecções comentadas em serões com amigos, cada um mais viajado do que o vizinho, heróis de aventuras organizadas, gente que cumpriu um alto desígnio, viu mundo. Outros sonharão, porventura, com o Tibete mas acabam em Benidorme enquanto alguns se ficam por angustiadas travessias do Tejo, com análises e outros exames na mala, consultas marcadas. O Tejo não é o Ganges e as radiografias não proporcionam projecções charmosas. A cada um suas viagens…
Há quem, diariamente, percorra a marginal, de ponta a ponta, a pé, em tributo ao mar, saboreando o nosso sol, bendizendo a felicidade de ter nascido nesta terra.
Conservo imagens nítidas das minhas primeiras viagens, a abalada de Sesimbra, do largo da Igreja, às seis da manhã, rumo às Caixas, com o Pintassilgo ao volante da velha Panhard do Covas. O galo do tio Meano esperava por nós, era um deslumbramento, um filme que revejo mil vezes na tela das minhas recordações. Mil outras viagens fiz na minha cabeça ao longo das múltiplas etapas entre Lisboa e Coimbra, no comboio correio ou semi-directo que demorava sete intermináveis horas.
Talvez por não ter sido habituado a viajar por prazer e recreio, fui aprendendo a apreciar este mar, estas árvores, estas ruas, algumas pessoas, o que me rodeia. Poderia, lá bem no fundo, fazer como tantos e sonhar com Maldivas, Hawai ou Maurícias, mas não. Talvez tenha ficado saciado de viagens ouvindo as narrativas do meu pai, marinheiro de guerra que cruzou os mares para acabar em terra, naufragado em pedreiras desastrosas. Teria gostado, isso sim, de o ter acompanhado em inesquecíveis expedições à
Arrábida, com o Duque, o Antero e os outros. No fundo, é mais esse o meu registo, proximidade e pacatez, sem filmes, sem compras em bazares de turistas, sem troféus nem autocolantes de hotéis nas malas.
Em verdade, não aspiro a safaris nem a cruzeiros, sou mais de ir ao reminho pela borda d’água…
____________*Publicado no n.º 25 de Sesimbra Eventos, de Junho/Julho de 2003.