Ah, grande Manel!*
António Cagica Rapaz
O meu pai costumava chegar no carro que saía de Cacilhas às 6.45 e eu debruçava-me para alcançar com a vista a esquina que a Rua Monteiro formava com a calçada, na esperança de ver a sua silhueta imponente dobrar aquele cabo que para mim tanta vez fora de tormentas, na ansiedade de o ver chegar.
Acontecia-me desejar que o meu pai fosse como tantos outros, tivesse o seu empregozinho em Sesimbra, almoçasse em casa, fosse ao Central beber a bica e voltasse cedinho para jantar.
Mas ele navegou por outros mares, abraçou a Marinha, tinha sede de evasão. Depois trocou o mar pela terra, pela miragem do gesso e acabou torturado por uma Secil gigantesca onde a construção transformava carradas de terra em toneladas de gesso, verdadeiro milagre que o dinheiro sujo conseguia. O meu pai recusou, manteve-se vertical e acabou arruinado. O crime talvez não compense mas a virtude ainda menos…
O nosso dia começava com as duas badaladas infalíveis que o Eduardo pregava na nossa porta às sete em ponto. Vinha da Cotovia, trazia-nos o leite e o boletim meteorológico. Anos depois o filho do Eduardo do leite viria a ser guarda-redes na minha equipa de juniores. Curiosamente o futebol tem muito de rural. Joga-se num «campo», fala-se do «terreno» de jogo, se o guardião não tem «leite» e dá o seu «frango», é capaz de comer três ou quatro «batatas» e quem perde fica com um grande «melão»? Mas deixemos por agora o futebol e voltemos à chuva…
Metido na cama eu ficava à escuta receando que ele nos anunciasse um dia inteiro de chuva impiedosa. A chuva era o pesadelo do meu pai, ameaça medonha para as pedreiras, destruindo o trabalho feito, comprometendo o dia a dia, hipotecando o futuro. Eu sofria com isso e por vezes quase invejava quem não estava sujeito às contingências do tempo, quem não nadava com o coração nas mãos, com letras para pagar, à mercê de um aguaceiro.
Naquelas pedreiras, mais do que extrair gesso, o meu pai cavava a sua sepultura…
Partilhando tanta preocupação, tanta angústia, acontecia-me quase invejar os amigos e companheiros que se deitavam sem pensar na chuva e noutros problemas. Sonhava com tranquilidade, paz de espírito, quando só tinha ansiedade permanente, insegurança e incerteza.
Mas depois o meu pai sentava-se à mesa, comia e falava, falava, contava, narrava, reconstruía um universo que afastava as nuvens negras e o ronco surdo do vendaval. E era o «Bartolomeu Dias», a «Faro» e a «Lagos», as viagens a África, as proezas da rapaziada do seu tempo, a taberna do Câncio, as sessões de hipnotismo e espiritismo, as caldeiradas monumentais, os retiros na Arrábida, o escaler e o charuto na praia do tio Abel. E o Pátria.
O Pátria era o combate desigual numa vila dominada pelo União e pelo Vitória, com os Ases a fechar o quadrado.
O Pátria era o mais pequeno, grupo de amigos, companheiros, entusiastas, apaixonados, tesos e irredutíveis.
Os nomes do Mira, do Zé da Faca, do Patachão faziam parte da minha mitologia desse tempo heróico das bolas com atilhos, lenço na testa e balizas às costas.
As aventuras do Pátria quase me faziam esquecer o implacável Eduardo que trazia as bilhas com leite e com chuva às sete em ponto, altura em que começava o Talismã, no Rádio Clube Português. Às sete e meia lá vinha aquela música sinistra que anunciava um folhetim tenebroso narrado e interpretado por uma Manuela Reis que fazia todos os papéis. A minha mãe e a minha prima Judite não falhavam um episódio.
As rivalidades e os golpes baixos assassinaram o Pátria que acabou ferindo dolorosamente o meu pai e alguns fiéis companheiros.
A partir daí o único objectivo (seria vingança?) do meu pai passou a ser acabar com os outros. Não garanto que tenha sido ele a lançar a ideia da fusão, mas pelo menos apoiou-a com todo o entusiasmo até à sua concretização.
Mais do que a fundação de um novo e maior clube, a fusão representou o fim dos que tinham acabado com o Pátria. E para o meu pai o futebol em Sesimbra morreu ali.
Por volta dos meus treze ou catorze anos lembrei-me de ressuscitar o Pátria, com a ajuda de um grupo de companheiros que aprovaram a ideia.
A sede era em casa do João Rasteiro, onde hoje é a lavandaria, ao lado do Américo fotógrafo. Do grupo faziam parte o Pedro Gonçalves, o Luís Filipe, o Penim, o Manel Campino, o Julião, o Zé Júlio e muitos outros.
Limpámos e arranjámos o quintal, dotámo-nos com uma pequena biblioteca, tínhamos um «não-te-irrites», cartas, dominó e mandámos fazer cartões de sócio com o emblema autêntico do Pátria Futebol Clube.
Foi bonito, foi enternecedor, foi piegas e, graças à generosidade do João Rasteiro, tínhamos ali uma casa, um ninho. Juntávamo-nos, brincávamos, sonhávamos…
Infelizmente a história repetiu-se e um grupo de invejosos tratou de formar uma coisa a que chamaram Juventude, não para criar uma competição salutar mas apenas para aliciar elementos nossos, provocar instabilidade, destruir o Pátria. E resultou. Aos poucos foram saindo e no fim ficámos três.
Os outros dois foram o Pedro e o Manuel Campino. O Pedro ficou como o pai dele teria ficado ao lado do meu. Foi um gesto bonito e Deus sabe que nem sempre estive de acordo com o Pedro.
O Manel era o neto do velho Fartura cuja cocheira ficava ali a dois passos da taberna do mestre Adelino. Morava no Barreiro e vinha passar todas as férias a Sesimbra este Manel que sempre foi apaixonado, arrebatado, um louco maravilhoso, generoso e inteiro, um amigo fixe e leal, rico de fantasia, de humor e de talentos múltiplos, na bola, na pintura, e hoje nos negócios. O pai dele construiu a sepultura do meu pai e a nossa amizade é como o mármore que ele escolheu. O tempo não deixou marcas nem a separação que as nossas vidas ditaram.
O Pátria foi uma brincadeira, foi como a exploração das grutas do farol e as expedições às Caixas de que o Alexandre ainda se há-de rir lá em cima…
Foi um sonho condenado a despertar precoce, projecto sem amanhã, sabíamo-lo todos. Mas foi bom, foi saboroso, durou o que podia durar, como a cabra do senhor Seguin no célebre conto de Alphonse Daudet. Ela sabia que o lobo acabaria por a comer, mas foi na mesma para a montanha. Comeu a erva verde e tenra, rebolou-se nela, contemplou o pôr do sol, embriagou-se com os perfumes da montanha, com as cores deslumbrantes do crepúsculo, sabendo que seria a última vez. Depois lutou, lutou até lhe faltarem as forças quando raiava a alvorada. E o lobo comeu-a…
Se calhar viver é isso mesmo, sonhar, correr atrás de miragens, buscar o inacessível, agarrar o sol com as duas mãos, mergulhar no mar azul em Janeiro, acreditar que há tesouros nas grutas do farol, que na encosta do castelo ainda há mouros com cimitarras cravejadas de rubis, que o Numância emerge da fundura e cruza todas as noites a baía, luzes apagadas.
Só morremos quando perdemos a faculdade de sonhar. No Pátria ficámos três e nenhum de nós esqueceu. Só por isso valeu a pena.
E tudo isto me ocorreu apenas porque o Manel me telefonou há dias e, entre outras coisas, deu-me conta da sua emoção ao ler «O carro das sete».
Porque aquele carro era também o dele, fazia parte do seu, do nosso universo, do nosso inconsciente colectivo. E assim eu vou conseguindo, bem ou mal, arranjar ideias enquanto me emocionar também, enquanto houver um Manel que me dê uma ajuda e enquanto tiverdes paciência para me aturar. É um pedaço de nós que fica graças a ele. Ah, grande Manel!
____________
* Publicado em O Sesimbrense de Dezembro de 1993.



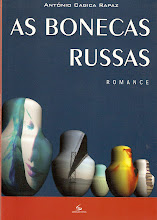




eu diria: «ah grande Tó Manel!»
ResponderEliminar