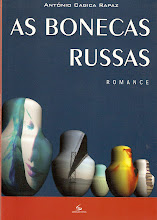Meta Física
António Cagica Rapaz
- Desculpe, acredita na premonição e na reencarnação?
- É uma sondagem?
- Não, nada disso. É antes o deslumbramento, a fascinação, a materialização de um sonho milenário, de uma convicção enraizada em mim há uma eternidade...
- Ena, o que para aí vai, receio não compreender...
- É natural, é tão natural! Eu próprio começava a duvidar, a interrogar-me se tudo isto faz algum sentido, se não andaria a ser vítima e carrasco, promotor e escravo desta união sonhada. Há anos que ando numa busca sem tréguas, olhando à minha volta, batendo a cada porta, procurando confirmação para as minhas convicções transcendentais. Até que hoje, o Céu seja louvado, as minhas preces foram ouvidas, hoje obtive resposta, ao vê-la aqui, na esplanada do Martelo, com o mar por testemunha. Sim, porque desde há séculos estamos prometidos, temos encontro marcado...
- Tudo isso é erudito, mas algo complicado. Importa-se de ser mais claro?
- Com todo o prazer. Em termos simples, numa vida anterior nós pertencemos um ao outro, tenho disso a certeza absoluta. E é essa confirmação fulgurante que acabo de ter. Ao fim de vários anos de buscas desesperadas, o milagre deu-se. Senti-o logo que a vi, a sua aura, o seu perfil, o seu olhar luminoso, não, não pode haver engano, a minha vigília terminou, estamos de novo juntos...
- É estranho e, ao mesmo tempo, curioso, sinto-me um tanto perturbada. Há, na verdade, coisas misteriosas. Há muitos anos eu pressentia que, um dia, um desconhecido me abordaria, numa praia, numa esplanada, num lugar público, de forma pouco convencional e que captaria o meu interesse, primeiro, para em seguida fazer nascer em mim um verdadeiro vulcão emocional.
- Ah, como é reconfortante! Continue, continue...
- É surpreendente como estas coisas acontecem. O que é frequente é aparecer um parvalhão qualquer a meter conversa connosco, numa tentativa rasca de engate, com pretextos do estilo “Desculpe, não nos conhecemos já de qualquer lado?”. Está a ver, não está?
- Claro, é uma técnica mentecapta, estafada, sem imaginação nem talento...
- Como gosto de esplanadas, habituei-me a lidar com esses conquistadores de meia tigela. Ao mesmo tempo, tinha uma espécie de sexto sentido ou de premonição, uma convicção nítida de que um dia seria diferente, que me apareceria um homem especial, absoluto, único, o Homem. Da minha vida. Que haveria um reconhecimento mútuo imediato, instintivo, irreprimível, uma emoção que dispensa palavras, afasta preconceitos, ignora artifícios, varre convenções, derruba obstáculos reais e imaginários...
- E o sonho tornou-se realidade...
- Ah, sim, completamente, excedeu até as minhas expectativas. É verdade que, no início, tive alguma dificuldade em perceber, em identificar. Mas bem depressa foi como se o sol entrasse no meu coração. Foi uma explosão maravilhosa na minha cabeça, fiquei rendida, subjugada.
- Ah, como é bom ouvi-la, que encanto, que deleite! Eu sabia que éramos feitos um para o outro...
- Mais devagar, mais devagar...
- Não se pode travar o destino. Agora que nos encontrámos, nada nem ninguém poderá separar-nos, somos um do outro, estava escrito.
- Mais devagar, meu amigo, mais devagar, nada de precipitações. As regras do jogo por vezes mudam, e a mulher também tem o direito de brincar com a dialéctica da sedução orquestrada. Ou, se preferir, de entrar e conduzir o jogo do engate.
- Não estou a perceber...
- Já vai entender. Fique sabendo que nem tudo quanto disse foi inventado. De facto, conheci o meu marido numa esplanada e foi amor à primeira vista. De vez em quando, gostamos de umas fantasias, com uma cumplicidade e uma confiança sem falhas, com regras bem definidas, com limites que só nós conhecemos.
- E quem é o seu marido??
- É aquele matulão que está ali, na mesa perto do muro, a fingir que lê o jornal. Não leve a mal, desta vez não resultou, mas paleio e imaginação não lhe faltam. Não desista...
- Bem, paciência, dou-lhe os parabéns, gabo-lhe o talento e invejo o seu marido. Mas a vida continua. Olhe, está a ver aquela morena, de óculos escuros, a tricotar??
- Vai atacar outra vez com a premonição?
- Trazia essa bem estudada, mas acho que vou mudar de tema. As questões ambientais estão na moda e, se calhar, é boa ideia qualquer coisa como o massacre das focas, coitadinhas. Pode ser que pegue...
António Cagica Rapaz
- Desculpe, acredita na premonição e na reencarnação?
- É uma sondagem?
- Não, nada disso. É antes o deslumbramento, a fascinação, a materialização de um sonho milenário, de uma convicção enraizada em mim há uma eternidade...
- Ena, o que para aí vai, receio não compreender...
- É natural, é tão natural! Eu próprio começava a duvidar, a interrogar-me se tudo isto faz algum sentido, se não andaria a ser vítima e carrasco, promotor e escravo desta união sonhada. Há anos que ando numa busca sem tréguas, olhando à minha volta, batendo a cada porta, procurando confirmação para as minhas convicções transcendentais. Até que hoje, o Céu seja louvado, as minhas preces foram ouvidas, hoje obtive resposta, ao vê-la aqui, na esplanada do Martelo, com o mar por testemunha. Sim, porque desde há séculos estamos prometidos, temos encontro marcado...
- Tudo isso é erudito, mas algo complicado. Importa-se de ser mais claro?
- Com todo o prazer. Em termos simples, numa vida anterior nós pertencemos um ao outro, tenho disso a certeza absoluta. E é essa confirmação fulgurante que acabo de ter. Ao fim de vários anos de buscas desesperadas, o milagre deu-se. Senti-o logo que a vi, a sua aura, o seu perfil, o seu olhar luminoso, não, não pode haver engano, a minha vigília terminou, estamos de novo juntos...
- É estranho e, ao mesmo tempo, curioso, sinto-me um tanto perturbada. Há, na verdade, coisas misteriosas. Há muitos anos eu pressentia que, um dia, um desconhecido me abordaria, numa praia, numa esplanada, num lugar público, de forma pouco convencional e que captaria o meu interesse, primeiro, para em seguida fazer nascer em mim um verdadeiro vulcão emocional.
- Ah, como é reconfortante! Continue, continue...
- É surpreendente como estas coisas acontecem. O que é frequente é aparecer um parvalhão qualquer a meter conversa connosco, numa tentativa rasca de engate, com pretextos do estilo “Desculpe, não nos conhecemos já de qualquer lado?”. Está a ver, não está?
- Claro, é uma técnica mentecapta, estafada, sem imaginação nem talento...
- Como gosto de esplanadas, habituei-me a lidar com esses conquistadores de meia tigela. Ao mesmo tempo, tinha uma espécie de sexto sentido ou de premonição, uma convicção nítida de que um dia seria diferente, que me apareceria um homem especial, absoluto, único, o Homem. Da minha vida. Que haveria um reconhecimento mútuo imediato, instintivo, irreprimível, uma emoção que dispensa palavras, afasta preconceitos, ignora artifícios, varre convenções, derruba obstáculos reais e imaginários...
- E o sonho tornou-se realidade...
- Ah, sim, completamente, excedeu até as minhas expectativas. É verdade que, no início, tive alguma dificuldade em perceber, em identificar. Mas bem depressa foi como se o sol entrasse no meu coração. Foi uma explosão maravilhosa na minha cabeça, fiquei rendida, subjugada.
- Ah, como é bom ouvi-la, que encanto, que deleite! Eu sabia que éramos feitos um para o outro...
- Mais devagar, mais devagar...
- Não se pode travar o destino. Agora que nos encontrámos, nada nem ninguém poderá separar-nos, somos um do outro, estava escrito.
- Mais devagar, meu amigo, mais devagar, nada de precipitações. As regras do jogo por vezes mudam, e a mulher também tem o direito de brincar com a dialéctica da sedução orquestrada. Ou, se preferir, de entrar e conduzir o jogo do engate.
- Não estou a perceber...
- Já vai entender. Fique sabendo que nem tudo quanto disse foi inventado. De facto, conheci o meu marido numa esplanada e foi amor à primeira vista. De vez em quando, gostamos de umas fantasias, com uma cumplicidade e uma confiança sem falhas, com regras bem definidas, com limites que só nós conhecemos.
- E quem é o seu marido??
- É aquele matulão que está ali, na mesa perto do muro, a fingir que lê o jornal. Não leve a mal, desta vez não resultou, mas paleio e imaginação não lhe faltam. Não desista...
- Bem, paciência, dou-lhe os parabéns, gabo-lhe o talento e invejo o seu marido. Mas a vida continua. Olhe, está a ver aquela morena, de óculos escuros, a tricotar??
- Vai atacar outra vez com a premonição?
- Trazia essa bem estudada, mas acho que vou mudar de tema. As questões ambientais estão na moda e, se calhar, é boa ideia qualquer coisa como o massacre das focas, coitadinhas. Pode ser que pegue...
1998