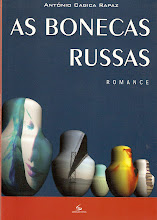A suave mentira*
António Cagica Rapaz
Estávamos na intimidade da capela do Senhor das Chagas, e o corpo presente era o do João, em família, com os amigos e a bênção do padre Agostinho, quando a Maria Ermelinda me surpreendeu pedindo-me para ler um texto durante a missa. Muito embora não seja grande adepto deste tipo de participações externas, aceitei sem hesitação e, lá fui ler uma passagem cuja última frase era “Palavra do Senhor”.
Nessa altura, dei por mim a recordar outro tempo, o da minha juventude, quando, noutro altar, na igreja de cima, diante de um microfone parecido com aquele e a meias com o Pedro António, eu lia a versão portuguesa da missa das crianças enquanto outro João, o inesquecível padre João Ferreira, oficiava em latim.
Terminada a leitura, senti uma súbita vontade de continuar ali, de olhar todos quantos tinham vindo dar um último abraço ao João e dizer algumas palavras simples, depois da solenidade e da profundidade da palavra do Senhor. Mas, talvez por não estar preparado, não me atrevi. A verdade é que, por vezes, tenho receio de certos impulsos que podem não ser bem interpretados, sobretudo em momentos dolorosos. Lembrei-me de uma situação semelhante no filme “Quatro casamentos e um funeral”, tão iguais são a ficção e a realidade, e admiti que o João teria gostado que alguém dissesse duas palavras, na nossa linguagem, com a proximidade, o afecto e a cumplicidade que nos uniam. Acabei por ficar em silêncio e, hoje, tenho pena. Felizmente, resta-me este cantinho da “Eventos” para voltar a falar do João, porque é preciso ir um pouco além das fórmulas de circunstância. Ele merece mais do que recolhimento e prostração, porque não se limitou a cruzar-se connosco na marginal. O João fez efectiva e duradouramente parte das vidas de muitos de nós.
Há pouco tempo, embora não explicitamente nomeado, ele foi a figura central de um escrito que intitulei “E co’a dor” e no qual tentei abordar o difícil tema da dificuldade que todos sentimos em lidar com a perspectiva de uma morte que sabemos ou pressentimos inevitável; com a tristeza, a revolta e a impotência; também com a vontade de não abandonarmos os nossos amigos; mas igualmente com o apelo da vida que nos leva a apertar, por uns momentos, a mão do doente e, logo depois, irmos jantar fora, ao cinema ou ao futebol. Porque a vida é assim mesmo, porque não podemos chamar a nós todos os dramas do nosso círculo de amizades. Os familiares chegados, esses é que não podem alhear-se um só momento.
Nós, os amigos, podemos estar presentes, a espaços, falar disto e daquilo, deixar mensagens de ternura embrulhadas em palavras aparentemente banais, desanuviar o ambiente, ousar trivialidades, às vezes, uma laracha, fingir que acreditamos na recuperação, enquanto eles, na sua incerta consciência, fingem crer em nós, num jogo assente em cumplicidades inconfessadas, em que uma palavra despropositada pode ser devastadora.
Quando nos despedimos, quando viramos costas, sentimo-nos aliviados, cumprimos a nossa obrigação, respiramos fundo e olhamos o céu azul, dando graças a Deus por estarmos de volta à nossa realidade. Mas, quando somos verdadeiramente amigos, não podemos deixar de sentir o coração apertado. E sentimos alguma culpa, apesar de tudo.
Depois, o tempo vai passando, com uma ou outra ilusão de esperança, a angústia de um agravamento insuportável e um cada vez menos convicto discurso que mais não consegue ser do que uma tímida e suave mentira. Um dia, farão o mesmo connosco, e também nós fingiremos acreditar…
O João deixa em todos quantos o conheceram uma recordação muito forte, pela bondade, pela gentileza, pela lealdade, pela honestidade, pela autenticidade, pelo entusiasmo, pelos ideais, pelos sonhos que perseguiu.
Nos momentos derradeiros, o padre Agostinho serenou-o, assegurando-lhe que podia partir tranquilo porque cumpriu a sua missão, deixa uma grande saudade nos seus alunos, nos seus amigos, nas gentes da nossa terra. De cada vez, e muitas são, que vou ao porto de abrigo, penso nele, no seu amor pela natureza, pela vida. Em cada aiola, em cada barca de aparelho, por este mar fora, ele deixou o seu olhar e a sua paixão, o nosso João…
____________
*Publicado no n.º 37 de Sesimbra Eventos, de Abril/Maio de 2005.