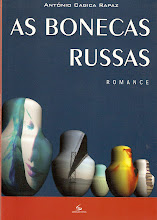O Doutor Aurélio*
António Cagica Rapaz
Nos tempos heróicos da minha infância os doutores eram raros em Sesimbra e esses títulos correspondiam a personalidades marcantes. O dr. Costa estava já no ocaso e o meu médico era o inesquecível dr. João Pacheco Caramelo, figura inconfundível da nossa terra, meio cientista distraído, meio chefe de orquestra inventivo, mas antes de tudo um grande médico e um homem de bem.
O dr. Fernando Lopes era já uma autoridade em farmácia e, mais tarde, tive a oportunidade de o conhecer de perto e admirar a sua extraordinária capacidade de trabalho, a sua consciência profissional, o método, o rigor, no dia a dia, em família e no trabalho. Figuras mais decorativas e transitórias eram os doutores da Alfândega, das finanças e do registo, gente de fora que adorava viver em Sesimbra.
Eram todos eles forças vivas da terra, com lugar marcado no anfiteatro do Café Central. Desse tempo ficou-me a imagem de respeito e consideração que envolvia tais personagens, autênticos seres de excepção. O senhor doutor era o senhor doutor!
Mas os tempos mudaram e o prestígio do canudo diluiu-se por deixar de ser raridade.
Hoje em Sesimbra, entre os filhos da terra, não faltam doutores e engenheiros. Apesar desta perda de solenidade, a doutoriedade dos valores autênticos não se obscureceu. Pelo contrário um homem como o dr. Fernando Lopes aparece hoje com uma merecida auréola de catedrático.
Esta democratização ou proliferação trouxe consigo uma mudança de estilo, produziu um tipo novo, uma nova raça de doutores. Já não são as celebridades de pedestal, mas homens e rapazolas como nós, de risco ao lado, de fatinho do Zé marujo.
O primeiro desta nova vaga foi, a meus olhos, o Aurélio de Sousa. A mais longínqua recordação que dele tenho foi o meu pai que ma transmitiu quando um dia me relatou que o filho do Joaquim de Santana, um miúdo, guiava de pé as camionetas do pai. Nunca mais esqueci esta peripécia da qual, por sinal, nunca falei ao Aurélio. Anos mais tarde o estudante Aurélio de Sousa aparecia em Sesimbra, de vez em quando, de capa e batina, indumentária insólita e intrigante.
Receei que tivesse entrado no seminário, mas tal não foi o caso. Aliás o seu temperamento não era o mais adequado ao celibato sacerdotal. Era o tempo do feitiço cigano…
E o belo Aurélio lá ia estudando as economias e finanças ao mesmo tempo que se desmarcava para receber os passes em profundidade que o Valdemar lançava no espaço vazio. O futuro senhor doutor (que ainda por cima era de Santana, portanto, gente do campo) não hesitava em dar o corpo ao manifesto, generosa e galhardamente, no meio dos plebeus chutadores do Desportivo.
Por essa altura dava eu os primeiros pontapés e, na idade dos sonhos, imaginava-me de capa e batina e camisola da Académica ao peito. Da mesma forma que todos os rapazes sonhavam com o Robin dos Bosques e o Zorro. A única (e importante) diferença é que o Aurélio foi um estudante que para se distrair e por gosto jogava futebol enquanto eu tive de jogar futebol para poder estudar. Felizmente o futebol proporcionou-me ir além do sétimo ano, pois sem ele nunca teria posto os pés na universidade, por falta de recursos económicos. Essa mesma falta me impediu de comprar uma capa e uma batina. As poucas vezes que as vesti foi por empréstimo, mas isso são outros contos. Em Coimbra nem tudo foram rosas nem serenatas, longe disso, mas ali comecei o que era o sonho natural, ingénuo e beatífico dos meus pais: a licenciatura. A minha mãe gostava de ter um filho doutor. Graças ao futebol assim aconteceu e, embora não encha o peito, sinto certa satisfação.
Foi nessa fase de futebol e estudos que mais convivi com o Aurélio, um tanto por acção inicial aproximativa do Valdemar, rei da boémia em Sesimbra by night.
O Aurélio era já senhor doutor, mas, na mesa linha de comportamento, deixava o título na gaveta e era cá dos nossos, sem preconceitos de classe nem pruridos intelectuais. Era o tempo dos sábados de tarde vizinha da noite de aventuras de fins de semana. O Aurélio chegava de Lisboa e, antes de jantar, vinha cá abaixo dar uma volta, trocar dois dedos de conversa e alinhavar o programa para a noite que não raramente se resumia a compridas passeatas, com conversa larga e um copo pelo meio. Havia, claro, o Forno e o resto, mas a base era uma troca de experiências, uma convivência curiosa e rica. Eu trazia o saco cheio de histórias românticas e vibrantes, fruto da idade, enquanto o Aurélio, mestre na arte, ouvia e revivia, compreendia e refreava o entusiasmo, com paciência e certa filosofia.
Depois o Aurélio tinha a delicadeza oportuna, detectava o que me daria prazer e sugeria, avançava sem que eu pedisse.
Eu tinha carta mas não tinha carro e logo ele criou o ritual da voltinha à doca ao sábado à tarde, no seu velho Morris 850. Uma vez até cometeu a loucura de me deixar guiar, à noite, até à Caparica. Para mim era uma felicidade aquela voltinha, um gosto aparentemente banal mas que pessoas mais próximas nunca tiveram.
Entre nós estabeleceu-se uma boa cumplicidade, havendo da sua parte uma certa tolerância e um prazer maroto nas encruzilhadas do verão em cujas vielas cruzámos lanças com um sorriso diletante, conferindo a cada emboscada romântica o tom prazenteiro, jovial e brejeiro que convinha, sem exagerar nas doses da intriga amorosa nem nos juramentos de sangue.
O Aurélio, instalado na vida, seguro de si, apreciador de bons momentos, era um parceiro leal e ideal. Decorria o verão inesquecível de 1966…
Era a época em que ele dizia amiúde “efectivamente” e o doutor Aurélio foi uma figura que efectivamente me marcou de forma precisa e impressiva.
Um novo Aurélio apareceu em Sesimbra uns anos depois. Era um marado chamado Vítor que, a bordo de um velho Fiat 500, se tornou o mentor dos Zambras e conquistou um lugar invejável na rambóia de Sesimbra.
Rei do Carnaval, ao lado do Fedor, do Zé Batata, do Arménio e quejandos, o Vítor no dia seguinte punha a gravata e voltava a ser “como o Aurélio” o doutor Sevilhano Ribeiro, especialista em economia e finanças.
Hoje é dos valores mais seguros no campo de formação de gestores que existe neste nosso pobre país. Mas isso não o impede de lançar o pânico e o desassossego ao ritmo da música trepidante e da improvisação criativa. Tudo isto no ambiente de camaradagem saudável que cria à sua volta. O Zé Inácio tem orgulho legítimo no genro. É compreensível e visível. E ainda bem porque o doutor Vítor é um figurão notável.
Hoje há doutores, muitos doutores, é exacto. Mas, se alguns são medíocres, a verdade é que o seriam mesmo se não fossem doutores. Por outro lado, se ser doutor não é uma marca de distinção suprema também não é defeito nenhum.
O Aurélio e o Vítor pertencem a duas épocas mas respiram o mesmo ar, vivem ao mesmo ritmo, são da mesma escola.
E o Zé Inácio não é doutor mas é Embaixador…
____________
* Publicado originalmente no Jornal de Sesimbra.