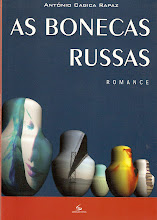Pauwels e o milagre*
António Cagica Rapaz
Em 1979, o mundo foi abalado pelo segundo choque petrolífero e a tecnologia de ponta dava passos de cujo alcance poucos tiveram uma consciência tão nítida como Louis Pauwels.
Pressentia-se o fim do reino do aristocrático presidente que foi Valéry Giscard’Estaing e começava o maquiavélico e despudorado François Miterrand a preparar o rol de irresponsáveis e incontáveis promessas em que o supostamente arguto povo francês acreditou. Nesse tempo, o número de desempregados andava pelos 300.000 e Miterrand nem pestanejou (como era seu tique) ao afiançar que iria criar um milhão de postos de trabalho. Só para jovens. Poucos anos volvidos, a França, fatalmente, chegava aos três milhões de desempregados e Mitterrand, pressionado pelos jornalistas, apenas declarou que a culpa era dos seus peritos que se tinham enganado nos cálculos. E passou a outro assunto. Privilégios, arrogância e impunidade destes príncipes que nos governam.
Foi há uns bons vinte anos e os políticos de hoje não são melhores…
Num dos seus brilhantes editoriais no “Figaro Magazine”, Louis Pauwels terá sido, porventura, o primeiro a dizer que a rainha ia nua. A rainha era a nova ordem mundial caracterizada pelo crescente papel da informática, da robótica, da modernidade que ia criando e instalando máquinas que atiravam para um desemprego galopante e dramático pessoas tornadas desnecessárias, fardos a eliminar em nome da rentabilidade.
Com uma lucidez implacável, Pauwels explicava (em 1979, é importante recordar) esta coisa simples e evidente: a máquina cria riqueza porque faz melhor, mais depressa e com menor custo o trabalho até então desempenhado por homens. Inevitavelmente, iria haver cada vez mais pessoas que perderiam o seu emprego e outras que muito dificilmente ou nunca teriam acesso ao mundo do trabalho. Esta era a realidade, cruel e inegável a não ser para os políticos que não só recusavam a evidência mas dela se aproveitavam com criminosa hipocrisia.
Louis Pauwels é um homem de rara inteligência, grande coragem e uma visão do Cosmos que vai muito mais longe que as sórdidas lutas por um poder tão transitório como irrisório. Assumidamente de direita, revelou uma grandeza admirável ao avançar uma forma de atenuar o drama do desemprego. Em linhas gerais, sugeria que a riqueza criada pelas máquinas não ficasse maciçamente nas mãos dos patrões, mas que fosse distribuída por forma a permitir aos milhões de excluídos viver com dignidade. Será isto socialismo? Será solidariedade? No fundo, ele bem sabia que era uma visão lírica, beatífica e utópica deste mundo que nada tem de admirável e onde os grandes grupos económcios, ao longo destes vinte e tal anos, têm utilizado cada vez mais as máquinas, explorando e humilhando trabalhadores angustiados e resignados a aceitar baixos salários e horários abusivos. A riqueza produzida pelas máquinas continua a entrar nos cofres dos patrões, enquanto os custos decorrentes dos despedimentos ficam para o Estado, ou seja, para os contribuintes…
Pauwels referia ainda quanto de paradoxal existe ainda nesta busca desesperada de trabalho, quando o próprio do homem não é trabalhar, mas sim ter actividades, passear, escrever, pintar, ir à pesca, estudar, conviver. Mas para isso, precisa de um rendimento mínimo que não lhe é proporcionado porque a repartição da riqueza continua a ser injusta.
Louis Pauwels é co-autor do “Despertar dos Mágicos” e de “Histórias Fantásticas”, homem da metafísica e de visões transcendentais. Mas não é louco, nem visionário, nem ingénuo ao ponto de acreditar que os ricos alguma vez se preocuparão com os pobres. E já então percebia que o poder político está totalmente manietado pelo poder económico.
No nosso país, continuamos sem levantar o sigilo bancário; sem averiguar a partir dos sinais exteriores de riqueza; sem ter mão pesada para as fugas ao fisco; sem investigar falências duvidosas; sem acabar com empresas familiares que só são constituídas para se ter carro, gasolina, almoços, férias pagos, com o dinheiro que deveria ir para o IRS; sem prescindir de mil privilégios e mordomias como reformas antecipadas, assessores pagos a peso de oiro, empregos para camaradas de partido; sem coragem para punir exemplarmente os poluidores, responsáveis por descargas criminosas e cobardes que as televisões mostraram mas cujos autores permanecem impunes; sem dotações orçamentais para a saúde, para a educação ou para as pensões, mas com fartura para a megalomania dos dez estádios do Euro 2004.
Louis Pauwels não se enganou e o desemprego continua a ser o mal maior, causa principal de angústia, desespero, violência, criminalidade, insegurança, cancros que minam a Humanidade. Porque não há esperança de um futuro melhor, porque os valores éticos, morais, humanitários, são esquecidos e pisados, porque se mata por petróleo e se morre voluntariamente em nome da religião.
Depois, nas sociedades modernas, o consumo é religião, cultiva-se a ostentação, os hipermercados multiplicam-se, o crédito é acessível. E são os carros, as câmaras de vídeo, os televisores, o cabo, a Internet, os telemóveis de terceira geração, as aparelhagens de alta fidelidade, as férias a prestações, a ilusão que conduz ao drama do endividamento incontrolável. Os mais pobres, os excluídos, em particular os mais jovens, arregalam os olhos. E muitos caem em tentação, roubos, assaltos, delinquência e criminalidade inevitáveis.
Depois, a televisão mostra tudo, não há tabus nem pudor. Censura-se um comentador político por ser incómodo e dá-se rédea larga à vacalhada da Quinta. Os estudantes revoltam-se contra o pagamento de propinas, mas têm automóvel, telemóvel sofisticado que dá para tudo, até para falar. Encharcam-se em álcool em noitadas abundantemente exaltadas em revistas pirosas e até em semanários que pretendem ser sérios. Em tempo de Queima das Fitas, as inocentes cervejeiras deste país oferecem milhares de barris de onde saem, misturados com a espuma, bebedeiras monumentais e comas etílicos sem conta, para grande gáudio da televisão e perante a indiferença do poder político.
Nas nossas estradas morre-se desgraçadamente porque ignoramos o Código, não respeitamos os outros condutores, queremos chegar à frente, vencer, ser mais espertos.
Se Louis Pauwels vivesse em Portugal, se calhar ia rever a sua teoria, ao verificar que continuamos a fabricar, às toneladas, doutores desenquadrados das necessidades do mercado de trabalho, tanto em qualificação como em número. Mais observaria que, no nosso país, as máquinas não substituem os homens, já que ao volante de cada uma vai sempre um condutor. E em algumas zonas industriais onde a crise grassa, há grandes máquinas, Ferrari, Maseratti e outras, nas mãos de empresários “falidos”.
Louis Pauwels teve razão, talvez cedo de mais. De facto, não é possível alcançar-se a paz, a harmonia social, o bem-estar da Humanidade, sem uma verdadeira e alargada solidariedade, através de uma mais justa redistribuição da riqueza, por forma a assegurar um mínimo de justiça social e equilíbrio entre os povos. E sem uma urgente e efectiva acção de protecção da Natureza, uma luta corajosa contra a poluição, em defesa do Ambiente.
Pessoalmente não acredito em tal milagre e receio bem que o Homem acabe por destruir o Mundo em que vamos vivendo cada vez pior, com a intolerância, a ganância, a indiferença, a exclusão, a solidão, a guerra, o terrorismo, a sida e a droga. Mas a teoria está certa e se o milagre de Pauwels se der, então sim, os homens dispensados pelas máquinas poderão viver com dignidade e ter as tais ocupações, ler, passear, pintar ou ir à pesca.
Têm é que se despachar porque, qualquer dia, já não há peixe…
____________
*Publicado no n.º 34 de Sesimbra Eventos, de Natal/Ano Novo de 2004-2005.