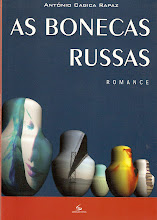as crónicas da Eventos...

Maigret e a Patricius*
António Cagica Rapaz
As minhas primeiras leituras foram os livros da escola primária, os jornais desportivos e as histórias aos quadradinhos. Até que a
D. Stella me ofereceu um livro sem imagens, mas com as aventuras do Corsário Negro, narradas por Emílio Salgari. Arrumei-o numa estante, remetendo para as calendas gregas a abordagem de tantas páginas assustadoramente desertas de desenhos. Um dia, porém, uma inofensiva gripe reteve-me na cama e, à falta de um Condor Popular ou Colecção Tigre, resolvi atirar-me ao Corsário Negro. Foi uma experiência surpreendente e apaixonante, devorei-o de uma ponta à outra, de um fôlego, com a rapidez do “Relâmpago” ao cruzar os mares das Caraíbas...
Teria uns onze ou doze anos quando conheci
António Telmo que teve, então, a paciência e a bondade de me ensinar a jogar bilhar a sério, a premonição das trajectórias, o planeamento das sequências, a ciência dos efeitos, o realismo no juntar das bolas, mas também o gosto diletante pelo recorte artístico na ousadia de certas tacadas. Poderia o mestre ter-me iniciado noutras rates, noutros campos do conhecimento, mas era cedo de mais, para mim. Depois, na altura apropriada, outras bolas me levaram para longe, com o futebol a ajudar-me a entrar na Universidade, mas a roubar-me o tempo para convívios, pesquisas, reflexões mais profundas do que as obras de leitura obrigatória. Por estas razões, também por algumas limitações, provavelmente, e por certo comodismo, fiquei-me pelo instinto e pela rama de temas considerados basilares no panorama da intelectualidade.
Talvez por ter lido muitos livros por imposição, por exigências naturais num curso de Letras, cedo deixei de fazer esforço para ler, ou seja, só leio o que me dá prazer. Da mesma maneira (são faces da mesma moeda) só escrevo por gosto, quando a companha do barco é boa, com mar chão
Eventos de feição. Confesso que mal comecei o “Ulisses”, de James Joyce. Será sacrílego um tal abandono e imperdoável desfaçatez esta revelação, mas é a verdade. Em contrapartida, há livros que já li quatro ou cinco vezes, e vou continuar a ler porque cada leitura é um prazer renovado. Não sei se estas coisas têm explicação nem se será útil (ou possível sequer) procurar razões para preferências. Eça de Queiroz é um deslumbramento e uma delícia, o seu conto “O Suave Milagre” é dos trechos mais belos que alguma vez li e o seu romance maior, “Os Maias”, é uma obra prima, em absoluto. Felizmente, a escolha é livre e abundante, não temos de obedecer a critérios exclusivistas de aferição, e ninguém nos obriga a optar entre Eça e Somerset Maugham ou Stefan Zweig. Nem entre “O livro de Saint Michel” e o “Quarteto de Alexandria” (Justine, Clea, Baltasar e Mountolive).
Importante é ler, com curiosidade, interesse e, se possível, paixão. No fundo, é uma questão de gosto, de sensibilidade, de afinidades. Por vezes encontramos o estilo que nos agrada, certa qualidade na narração, estrutura na intriga, consistência nas personagens, autenticidade e coerência na construção de um universo, de uma época, algumas das mil coisas capazes de nos seduzir e prender.
Curiosamente, os livros que mais prazer me proporcionaram são de autores franceses, tendo mantido com eles uma relação verdadeiramente afectiva. Primeiro foi Alphonse Daudet, com as “Cartas do meu moinho”, um hino à Natureza, à sua Provença. Guiado pela sensibilidade da D. Auzenda, foi-me mais fácil apreciar o bucolismo, a poesia, a caracterização de personagens e sentimentos fortes, à imagem da tragédia de Arles, com um suicídio por um amor maldito.
Mais tarde, vim a mergulhar de novo na atmosfera da Provença, pela mão genial, a arte de Marcel Pagnol que escreveu peças de teatro, vários romances e realizou filmes inesquecíveis. O colorido da linguagem, realçada por um sotaque delicioso, a panóplia de personagens, a prodigiosa imaginação, o palpitar de paixões e intrigas, a emoção autêntica que coloca em narrativas poeticamente autobiográficas e muito ligadas á infância, tudo torna gloriosa e fascinante a obra de Marcel Pagnol.
Por fim, Georges Simenon, o “pai” do Comissário Maigret. Em tempos, e em português, li “O homem que via passar os comboios”, não tendo ligado ao nome do autor. Anos volvidos, já em francês, descobri Maigret, reconheci o estilo e rendi-me ao talento de Simenon. Comprei todos os livros com o selo Maigret e atribuí-lhe a fisionomia e, sobretudo, a voz de Jean Gabin que vira num filme,
no salão do João Mota. Nessa altura, eu não sabia quem era Jean Gabin e, muito menos, Maigret. Mas ficou-me na memória a silhueta maciça, a presença imponente, o peso daquela voz grave, pausada, impressionante.
Pouco a pouco, seduzido pela magia da escrita corrida de Simenon, familiarizei-me com o universo do Comissário Jules Maigret, aprendi a conhecê-lo, os seus gostos culinários, a sua filosofia de vida, os seus projectos para a reforma, os seus tiques, certas particularidades da sua vida conjugal, os nomes dos seus colaboradores e, até, de muitas personagens dos romances que já li cinco ou seis vezes. E que vou continuar a ler, tão grande é o prazer…
Não me custa imaginar o Comissário, na
Cotovia, em mangas de camisa, o chapéu atirado para a nuca, à sombra do enorme pinheiro, fumando o seu eterno cachimbo, de olhos maliciosos semicerrados, tentando descobrir o cristalino mistério da maravilhosa cumplicidade entre o tio Jó e o Jorge. Nem duvido que se deixasse tentar por carapaus secos em dia de nevoeiro, no Outono, saboreando, para arrebater, um copinho de Patricius, sob o olhar divertido do nosso Jorge.
O milagre da leitura dá-se quando a escrita nos toca, nos envolve, nos arrebata, nos arrasta, quando sentimos que as pessoas ou as personagens fazem parte da nossa vida. Quer seja num livro, num jornal ou num opúsculo como este que tendes entre mãos e que aspira a ser um livrinho que vos fala da nossa terra, da nossa gente, das belezas naturais, do património cultural. E que aborda temas vários, ao sabor das vagas da inspiração desta companha que rema com gosto e alegria a favor da corrente, mas com igual vigor e convicção contra marés
Eventos…
____________
* Publicado no n.º 21 de Sesimbra Eventos, de Outubro/Novembro de 2002.